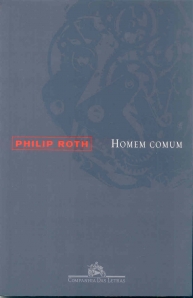OS ESPAÇOS DE PODER NO RIO DE JANEIRO

(Publicado no caderno "Prosa & Verso", do jornal "O Globo", em três de abril de 2010)
Finalmente editado, estudo de Rachel Sisson mostra como três pontos da cidade definiram sua feição moderna
Espaço e poder - Os três centros do Rio de Janeiro, de Rachel Sisson. Editora Arco Produções, 147 páginas. R$ 50
Estudantes e profissionais de Arquitetura, História e disciplinas afins não precisam mais tirar cópias e mais cópias da monografia de Rachel Sisson. “Espaço e poder” finalmente está sendo lançado, numa edição ricamente ilustrada, trilíngue e que traz o selo, embora tardio, dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil, comemorados em 2008. Mas o que o livro desta arquiteta tem para despertar tanto interesse desde que foi concluída, em 1983, e publicada na Revista Municipal de Engenharia do Rio de Janeiro?
Basicamente a resposta está no argumento bastante original da pesquisa de Rachel, apesar de tanto livros já terem sido escritos sobre a evolução urbana do centro do Rio de Janeiro, da descida do extinto morro do Castelo para a várzea, do enfrentamento de pântanos, lagos, mangues e mosquitos, dos desmontes de morros e dos aterros, que afastaram o mar e deram outro perfil à região, que permanece até hoje.
Marcos na Praça XV, Campo
de Santana e Praça Floriano
A autora enfatiza o desenvolvimento de três “centros” dentro do centro do Rio de Janeiro como fundamentais para a evolução da região e a consolidação do seu perfil moderno. Segundo Rachel, a Praça XV de novembro, o Campo de Santana e a Praça Floriano foram os espaços onde (cada um no seu tempo) a cidade não apenas evoluiu de forma mais consistente e articulada, como também definiu os seus marcos de poder, tanto políticos quanto religiosos, culturais, econômicos e outros, que lhe deram uma identidade e uma memória.
Os termos específicos da arquitetura e do urbanismo - aqui explicados de forma bem leve - são indispensáveis para se entender todo este processo. Além dos marcos e de outros jargões empregados nestas áreas, um que chama bastante atenção é o conceito de “nó”, ou seja, um “ponto de confluência de caminhos”, para usar uma definição bem simplificada.
Assim, a Praça XV, antigo Largo do Carmo, marcou a fase em que a cidade começou a descer o morro do Castelo, primeiro núcleo importante de ocupação da cidade, e a se expandir pela chamada várzea, com seus diversos obstáculos naturais, formando suas primeiras ruas, a da Misericórdia e a Direita (atual 1º de março), e ligando os morros do Castelo e de São Bento, que junto com os de Santo Antônio (quase totalmente desmontado) e o da Conceição, formavam o "quadrilátero dos morros", onde residia a maior parte da população. A autora mostra também como a concepção dos marcos do Largo do Carmo e a sua configuração seguiram o modelo do Terreiro do Paço de Lisboa, que também iria inspirar outras construções portuguesas nas suas muitas colônias.
Já bem depois daquele período, o Campo de Santana, também chamado de Campo da Cidade, foi o ponto culminante da expansão leste-oeste, principalmente após a chegada da família real e a sua consequente instalação no Palácio de São Cristóvão, forçando a construção de praticamente outra cidade, a "cidade nova", que mantém o seu nome até hoje e está prestes a ganhar a sua estação de metrô.
Ao falar da Praça Floriano, na área conhecida popularmente como Cinelândia (embora já quase não existam mais cinemas por lá), Rachel apresenta o terceiro ponto de expansão do centro da cidade, desta vez em direção à zona sul e marcando o desenvolvimento daquela região, principalmente através da avenida Beira-Mar, a maior avenida litorânea do mundo quando foi construída (5,2 km de extensão), mas que hoje não só teve o seu trajeto bastante encurtado como ficou bem longe do mar após sucessivos aterros. Antes, ela ia do obelisco da avenida Rio Branco ao antigo Pavilhão Mourisco, na então tranquila e limpa praia de Botafogo.
A rica ilustração do livro inclui fotos de satélites com demarcações mostrando como era o Rio de Janeiro quando a cidade era o próprio centro, como enfatiza a autora. Assim, vemos detalhadamente a extensão dos morros desmontados, a localização de lagoas aterradas e a imensa área conquistada ao mar pelos aterros. Um retrato perdido no passado de uma cidade que se reconstrói a cada dia.